Reparações a vítimas da ditadura no campo não chegam a 1% do total concedido pelo Estado
Pesquisadores apontam marginalização da resistência camponesa na justiça de transição brasileira; isto apesar de o número de mortos e desaparecidos – 1.196 – ser maior do que o das vítimas urbanas do regime autoritário
Por Caio de Freitas Paes, do Rio de Janeiro
Mais de cinquenta anos após o golpe de 1964, milhares de vítimas no campo sequer foram reconhecidas pela União. Como se não bastassem as estimativas subestimadas de camponeses mortos e desaparecidos durante os anos de chumbo, percebe-se que a luta rural mal foi notada pela Comissão de Anistia – hoje alocada no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Do total de reparações concedidas até 2018, as indenizações a camponeses não chegam a 1%.
 Segundo levantamento divulgado pelo pesquisador Fabricio Teló, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o número total de indenizações aprovadas pela Comissão de Anistia gira em torno de 39 mil. Enquanto isso, são meros 298 os pedidos deferidos em casos relacionados à luta camponesa no país – fruto de amplo desconhecimento das vítimas em relação aos seus direitos, segundo ele.
Segundo levantamento divulgado pelo pesquisador Fabricio Teló, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o número total de indenizações aprovadas pela Comissão de Anistia gira em torno de 39 mil. Enquanto isso, são meros 298 os pedidos deferidos em casos relacionados à luta camponesa no país – fruto de amplo desconhecimento das vítimas em relação aos seus direitos, segundo ele.
“Notamos que há pelo menos 600 vítimas que têm direito à reparação pelo Estado, instaurada pela Lei 9.140/1995, mas a maior parte delas e de seus familiares sequer sabe”, afirma Teló. “O desconhecimento sobre esse direito reforça como a repressão no campo ainda segue escanteada em nossa justiça de transição”.
A partir de dados oficiais divulgados pela comissão, o pesquisador informa que o número de requerimentos também é baixo – apenas 2.391 em mais de 78 mil. Esses dados foram apresentados durante um evento no dia 17, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na ocasião, reuniram-se professores e militantes vinculados à resistência para debater aspectos da repressão no meio agrário e suas consequências.
Teló observa:
– Os números reforçam a percepção que a reparação é mais ligada a conflitos que tiveram envolvimento da esquerda e de organizações políticas clandestinas do período.
Outro participante do evento, Gilney Viana, integrou a Ação Libertadora Nacional ao lado de Carlos Marighella em meados dos anos 70, quando foi preso. Professor na Universidade Federal do Mato Grosso, ele fez parte da equipe responsável pela Comissão Camponesa da Verdade (CCV), criada em 2012, e pesquisa a amplitude da ditadura sobre o meio popular agrário do país.

Se números recentes mostram que pelo menos 1.196 camponeses e apoiadores foram mortos e desapareceram à força entre 1961 e 1988 – mais do que consta no relatório final da CCV -, os novos dados reunidos por Viana apontam para mais de 1.600 vítimas.
“É uma tarefa difícil reunir informações [sobre a repressão no campo] porque os militares repassaram aos latifundiários o poder de reprimir e matar”, explicou Viana, que foi secretário de Desenvolvimento Sustentável no governo Lula. “Há poucos processos oficiais, como os que se encontram com mais facilidade nos grandes centros”.
SILÊNCIO CRIOU BASES PARA EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO
Viana afirmou que a ditadura remodelou o capitalismo no país, silenciando os crimes contra camponeses em prol de um projeto econômico, o qual criou as bases para a expansão do agronegócio. Nesse sentido, um dos locais mais cobiçados e deflorados pela ditadura foi a Amazônia, com apoio de grandes empresas, latifundiários e hordas de milícias rurais a seu dispor.
Na vastidão amazônica aconteceram massacres como a guerrilha do Araguaia, mas também resistências genuinamente populares, lideradas por posseiros, seringueiros e camponeses. O conflito na gleba Cidapar, na região fronteiriça entre o Pará e Maranhão, produziu um dos legados mais importantes dessa época.
A mais de 300 quilômetros a leste de Belém, os municípios de Capitão Poço, Japim, Ourém, São Miguel do Guamá e Viseu foram palco de uma verdadeira guerra nos anos 80. Ali se alastraram violentos embates entre pistoleiros de milícias rurais, colonos e posseiros que reivindicavam seu direito à terra no imenso Guamá. Foi o tempo de reinado de Armando Oliveira da Silva, o “Gatilheiro Quintino”.

Ele liderou uma sangrenta resistência de colonos e posseiros contra os proprietários da antiga Companhia Industrial de Desenvolvimento do Pará, a mineradora Cidapar: o Banco Denasa de Investimentos, da família do presidente Juscelino Kubitschek, e o grupo Real, do gaúcho Joaquim Oliveira (anos depois, do grupo Real nasceu a Josapar, dona da marca do arroz Tio João). Os proprietários foram beneficiados por acordos financeiros criados pelos militares, com projetos industriais, pecuários e madeireiros aprovados pela Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).
“A Propará, Agropastoril Grupiá, Real Agropecuária e Codepi, empresas do grupo gaúcho Joaquim Oliveira que integravam a Cidapar (junto com o Banco Denasa de Investimentos, Grupo Bangu, Grupo Veplan e Guarujá, Serve, Sadeama e Monte Cristo), afirmaram que tinham vindo ao Pará atendendo a um convite do governador Alacid Nunes, que lhes tinha prometido terras, incentivos fiscais e outros benefícios”, detalham os pesquisadores José Sonimar e Girolamo Domenico no relatório final da Comissão Camponesa da Verdade.
CRIMES TIVERAM CONIVÊNCIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS
A gleba Cidapar, que havia sido uma terra rica em cristais, ouro e titânio no início do século XX, estava oficialmente localizada no município de Viseu (PA). A área continha terras públicas estaduais e federais, dos indígenas Tembé – da Reserva Indígena Alto Rio Guamá, reconhecida ainda nos anos 1940 – e dezenas de povoados, onde moravam mais de 10 mil famílias de colonos e posseiros.
Quintino chegou à região depois de uma malfadada luta fundiária por vias legais. Nascido em Santa Luzia do Pará, a 100 quilômetros dali, ele havia sido expulso de suas terras quando denunciou o fato para a polícia, impetrou uma ação na Justiça e remeteu uma carta para o presidente João Figueiredo; todas suas tentativas fracassaram.
Dali em diante, decidiu armar-se contra fazendeiros e jagunços; quando os matava, dizia ter feito um ‘justiçamento’ para o povo. O líder da resistência dos colonos e posseiros no Alto Guamá proclamava-se gatilheiro por, supostamente, dizer que “pistoleiro é quem trabalha a soldo, contratado por fazendeiro para defender o patrimônio do patrão”.

Em uma das entrevistas que concedeu, durante o conflito no Alto Guamá, em 1984, ele disse:
– Eles têm armas perigosas: metralhadoras, fuzil, metralhadora de pé, de alça, manuais, pistolas manuais, etc. […] Eu vivo a matar essa raça ruim para ver se liberto esta área.
O estopim para a guerrilha aconteceu antes mesmo de sua chegada, com o assassinato de Sebastião “Mearim” Souza Oliveira, em 1981. Então delegado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Viseu, Mearim era um ‘cabra marcado para morrer’ pela pistolagem comandada por Juvenal Gomes de Castro – responsável por expulsar trabalhadores rurais que ocupavam o território havia anos.
Emboscadas, execuções e tocaias deram o tom ao confronto, cujo ápice aconteceu entre 1984 e 1986. Nessa época, o Gatilheiro Quintino comandava dois grupamentos de colonos e posseiros, com algo em torno de oitenta homens para confrontar mais de cem pistoleiros do grupo Real-Denasa.
As milícias rurais eram comandadas por um ex-agente do Doi-Codi (órgão de repressão e inteligência do Exército), o capitão James Lopes Vita. Anos mais tarde, Vita foi preso e condenado por ser o mentor do assassinato do ex-deputado estadual Paulo Fonteles, reconhecido pela defesa jurídica de posseiros no Pará dos anos 70 e 80.
Os batalhões de Quintino impuseram duras baixas aos jagunços e fazendeiros, o que fez a polícia do Pará, já sob tutela de Jader Barbalho (MDB), entrar no confronto. Com apoio estadual, foram feitas operações em conjunto entre pistoleiros, policiais e militares – inclusive com ajuda de caças da Força Aérea Brasileira (FAB) – para reprimir colonos.
Os crimes contra trabalhadores rurais tiveram, em diferentes momentos, a conivência de outros órgãos públicos, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o extinto Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins (Getat) e o poder judiciário paraense.
Foram anos de uma verdadeira caçada ao Gatilheiro e aos posseiros, que sofriam duras consequências. Militares, pistoleiros e policiais impuseram uma cruel rotina de violência aos colonos, muitas vezes submetidos a torturas, estupros e sequestros.
Um dos episódios marcantes de repressão aconteceu nos povoados de Japim e Cristal, em junho de 1984. Policiais invadiram casas, agredindo homens, mulheres e crianças, espancando-os e jogando bombas de gás lacrimogêneo – tudo a pretexto da caçada ao protetor dos colonos. À época, o jornal independente “A Tribuna Operária” noticiou que uma mulher abortou por causa dessas ações violentas.
REGIÃO AINDA CONCENTRA MUITOS CONFLITOS
Segundo informações levantadas pela Comissão Camponesa da Verdade, entre janeiro de 1981 e junho de 1986 foram assassinados pelo menos 24 trabalhadores e trabalhadoras rurais durante os confrontos na Cidapar. Ao fim, colonos e posseiros venceram o grupo Real-Denasa, mas o Gatilheiro Quintino pagou a conquista com sua vida.
Foi na noite de 4 de janeiro, em 1985, que pistoleiros, policiais e soldados emboscaram Quintino. Correm rumores que ele foi traído por um de seus companheiros, que o levou à Vila Nova do Piquiá, em Viseu, para festejos; quando percebeu o cerco, o Gatilheiro estava na casa de Florismar Monteiro dos Santos, o “seu Flor”, sem chance de escapatória. Mesmo assim, tentou fugir pelo fundo da casa de pau a pique, em direção à mata. No caminho, tiros de jagunços, soldados e policiais comandados pelo capitão Cordovil o atingiram no pescoço e no tórax.
À morte do Gatilheiro somaram-se as de outros membros da resistência, como a de sua esposa, Antonia. “O capitão Cordovil, antes de mostrar o seu troféu para o comandante da polícia militar, fez um desvio de 150 quilômetros até o município de Capitão Poço para exibir aos fazendeiros a cabeça do homem que eles tinham colocado a prêmio”, lembram os pesquisadores José Sonimar e Girolamo Domenico.
Enterrado às pressas e longe de sua família a mando do governador Jader Barbalho, Quintino teve um impressionante reconhecimento do povo do Alto Guamá. Uma multidão resgatou seus restos mortais em Capanema, transladando-os em um cortejo por 180 quilômetros até São José do Piriá. No caminho, centenas carregavam-no como o rei do cangaço do Guamá – alcunha que ele havia criado para si anos antes.
Foi apenas em 1988 que o poder público apaziguou o conflito fundiário em Cidapar. A solução veio por meio de um decreto que criou três assentamentos da reforma agrária em Cachoeira do Piriá, Nova Esperança do Piriá e Viseu. À época, foram assentadas 5.868 famílias na antiga área do grupo Real-Denasa, com mais de 419 mil hectares. Desde então, novos conflitos pela terra aconteceram, contrapondo os indígenas Tembé aos posseiros. Hoje, a região está na rota do desmatamento e furto de madeira da Terra Indígena Alto Rio Guamá.
A família do deputado Paulo Bengston (PTB-PA) possui propriedades em Viseu. Josué Bengston, seu pai e pastor da Igreja Quadrangular, é acusado de ter grilado parte da gleba Pau do Remo, onde criou a Fazenda Cambará. As redondezas da antiga Cidapar são, afinal, uma zona de intenso conflito entre fazendeiros, posseiros e indígenas, conforme noticiou este observatório.
Em 1991, seis anos depois do assassinato do Gatilheiro Quintino, 23 dos 27 policiais acusados de sua morte foram julgados pelo crime. Todos foram absolvidos por unanimidade sob a justificativa de “legítima defesa no estrito cumprimento do dever legal”. No relatório da Comissão Camponesa da Verdade, uma ponderação a respeito do caso: “Faz-se necessário se perguntar sobre o papel da Justiça Militar no julgamento de crimes de homicídio contra civis: se o processo tivesse tramitado perante um júri popular teríamos tido o mesmo veredito?”
ABERTURA POLÍTICA PARA UNS, CHUMBO PARA OUTROS

O longevo conflito em Cidapar foi um dos que incendiaram o meio agrário no fim da ditadura. Enquanto centros urbanos viam um ressurgimento de instituições civis engajadas, o campo notava que estava sendo deixado de lado naquele ensaio para a redemocratização. O pesquisador Gilney Viana disse no evento:
– Movimentos populares e mais afastados, como o dos posseiros na Amazônia, radicalizaram suas lutas por uma questão de sobrevivência, para serem ouvidos no processo de abertura política, no fim dos anos 1970.
Tal percepção se baseia na ideia que a resistência camponesa teve diferentes momentos, moldados de acordo com as mudanças internas na própria ditadura – que ora abrandava, ora intensificava a violência.
A primeira onda de repressão aconteceu logo no golpe de 1964, por meio de uma feroz caça às lideranças de ligas camponesas e movimentos agrários da época. Um exemplo é o caso da Revolta de Trombas e Formoso, em Goiás – sob a liderança de José Porfírio.
Ex-filiado ao Partido Comunista nos anos 1950, Porfírio foi o primeiro deputado de origem camponesa eleito no país, em 1962. Entre prisões e solturas nos primeiros anos de ditadura, ele desapareceu em 1973, em Brasília. O líder camponês goiano é um dos 434 desaparecidos políticos e mortos da lista oficial da Comissão Nacional da Verdade.

Anos depois, entre 1970 e 1976, a ditadura reprimiu movimentos que sobreviveram à primeira onda de repressão e também os que se articularam após o golpe. Conflitos como as guerras dos Perdidos e do Cajueiro, também no Pará, saltavam aos olhos do Serviço Nacional de Informações (SNI) dos militares dos anos 1970 em diante.
Na luta por terra na Amazônia, até ex-colaboradores do próprio regime em guerrilhas, como a do Araguaia, insurgiram contra grandes proprietários e empresas. O conflito na Cidapar integra a repressão derradeira, durante a virada para os anos 1988, em meio a uma gradual e limitada abertura política.
Moacir Palmeira, assessor na Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag) de 1978 a 1989, pondera sobre a relevância de outras instituições ao longo da resistência à ditadura no campo:
– [Comunidades] eclesiais de base, confederações e sindicatos conseguiram repercutir as graves violações que aconteciam no meio rural, porque ainda havia muita perseguição e uso da violência em conflitos de terra.
Ao mesmo tempo em que sindicatos e confederações trabalhistas surgiram, a época marcou a institucionalização por parte do latifúndio brasileiro. Para defender oficialmente sua agenda política, grandes proprietários fundaram grupos como a União Democrática Ruralista (UDR), por exemplo.
Hoje, a UDR colhe os frutos de sua influência, pois é o reduto político de figuras como o atual secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Nabhan Garcia, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado – conhecido por popularizar o termo ruralista.
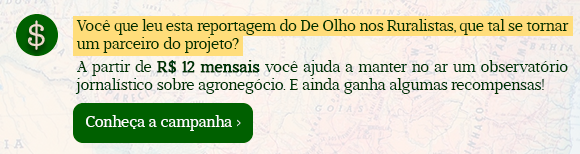




0 comentários:
Postar um comentário